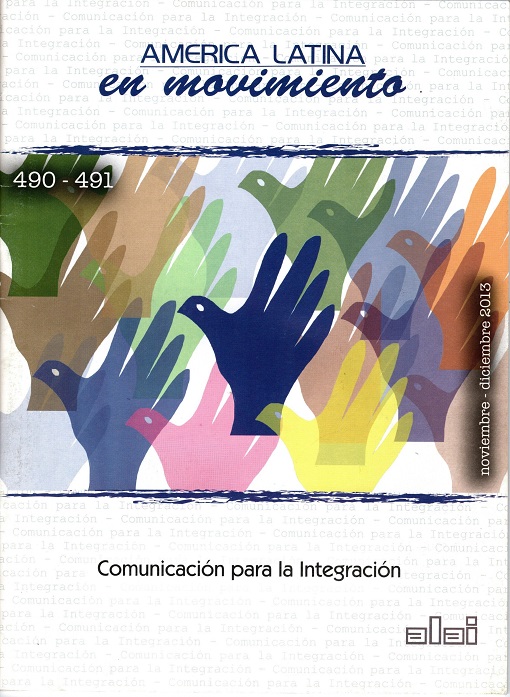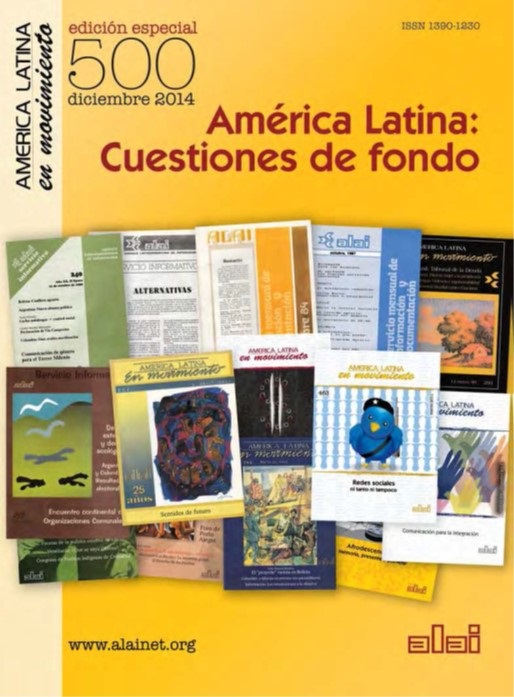Ferguson e a direita brasileira
19/08/2014
- Opinión
Recentemente a cidade de Saint Louis, no Missouri, vem se tornando presente nos noticiários. A morte de um jovem negro (participante de uma imensa maioria negra no subúrbio de Ferguson) por um policial branco tirou o véu do igualitarismo sócio-econômico que permeia os discursos de senso comum sobre os EUA. Em realidade, a região em questão é um local permanente de tensão racial e sendo a polícia de lá majoritariamente branca forma-se visivelmente a dualidade “agressores e agredidos” em cores brancas e negras, respectivamente. Também a forma como a polícia vem contendo as manifestações (violentas) têm sido alvo de críticas nacionais e internacionais. De fato, a polícia de Ferguson é saída de um conto de Hans Christian Andersen se comparadas às PMs no Brasil, mas para sociedades civilizadas o que têm acontecido lá é a barbárie do Estado.
Há dois dias a polícia de Saint Louis liberou vídeos que supostamente mostrariam o jovem morto (Michael Brown) assaltando uma loja de conveniência e levando um pacote de charutos. Aí reside todo o problema do qual a violência é apenas um apêndice. Um apêndice mórbido e asqueroso, mas apenas a ponta do iceberg. Nossa sociedade caminha desde o fim da Segunda Guerra Mundial para um retorno aos preceitos de Hammurabi. O rei babilônico consagrou o chamado “princípio de Talião” que afirmava que “para igual crime igual castigo”. O popular “olho por olho, dente por dente”. Nossa “civilizada” sociedade liderada por nossas “cultas” elites têm, desde os julgamentos de Nuremberg, reproduzido essa ideia. Nesse sentido, o pífio argumento da polícia em mostrar o rapaz aparentemente roubando serve para justificar sua morte. No mesmo sentido dos absurdos acontecidos no Brasil – na frente e atrás das câmeras – e, pasmem, em consonância com a decisão do “iluminado” magistrado brasileiro que justificou prisões arbitrárias porque os ativistas eram “esquerda caviar”. Afinal, “olho por olho, dente por dente”. E a barbárie togada.
De fato existem dois problemas com esse tipo de pensamento. Um é atacado por legisladores desde os tempos atenienses e romanos. O “olho por olho” leva ao Estado a cometer o mesmo crime daquele que está sendo preso por tê-lo cometido. Indiferenciados, pois, ficam o cumpridor da lei e o criminoso, no campo da ética. Em resumo, o Estado (e a sociedade que se evoca ser civilizada) não pode ser mais violento do que aqueles a quem ela prende e julga exatamente por serem violentos. É uma lógica falha que permeia o senso comum e hoje está na cabeça da maioria da nossa população. Pior ainda quando o “criminoso” é apenas um “suspeito” ou o preceito que ele “pretensamente” rompeu não é lei. A PM faz isso o tempo todo. Temos uma barbárie continuada travestida sobre o nome “estado de direito”. Isso acontecia, por exemplo, na África do Sul, na Inglaterra em relação à Irlanda e no sul dos EUA durante muito tempo (se é que não continua a acontecer visto que dados mostram que mais de 60% da população carcerária dos EUA é de negros sendo que eles correspondem a apenas 30% da população total do país).
O outro problema é que nosso sentido de “moral” busca sempre uma relação de causa e efeito pontual no tempo e no espaço. É um problema formativo da educação ocidental como um todo. Mais visível em países cujas elites, historicamente, nunca se preocuparam com a educação. Ao apresentar o vídeo onde supostamente o jovem negro roubava forma-se na cabeça inculta da maioria que ele não era “boa pessoa”. O mesmo argumento que um roqueiro reacionário brasileiro usou recentemente para atacar o filho de Rubens Paiva. Disse o ex-artista sobre o político morto na ditadura que ele só foi morto porque estava “fazendo m…”. Ou seja, o velho e bom olho por olho, agora perpetrado pelo viés moralista de um reacionário. É uma espécie de paralaxe dos tempos. Como se houvesse a possibilidade de julgar uma história, uma vida e todo um trabalho por um momento. O roubo dos charutos do jovem negro autoriza a percepção de que não era “boa pessoa” e, portanto, minora o absurdo do assassinato cometido pelo policial. “Fazer mer…” (seja lá o que isso signifique na cabeça do reacionário ex-artista) justifica a tortura e morte de Rubens Paiva. Os tempos se deslocam. Os julgamentos se petrificam.
A história ataca fortemente esse tipo de julgamento. Não foram os bárbaros que destruíram o império romano. Não foi a Revolução de 30 que acabou com a República Velha. Hitler não é responsável pela segunda Guerra Mundial. No fundo, os tempos individuais são sempre subsumidos nos tempos históricos e as relações de causa e efeito são muito mais extensas do que as trajetórias dos atores, por mais significativos que eles tenham sido. O império romano vinha tendo suas fundações erodidas desde a crise do século I a.C., A República Velha brasileira vinha sendo deteriorada durante a conhecida “crise dos anos 20” e Hitler é um produto da débil política externa ocidental desde o fim da primeira guerra juntamente com o medo visceral do comunismo. Se não fosse Hitler, outro louco teria levado a Alemanha à guerra. Não busquemos relações de causa e efeito nos indivíduos que são construídos dentro dos seus tempos históricos e sob suas pressões. São raros, se é que existem, fatos que tenham sido totalmente fruto de vontade individual. Somos todos seres social e culturalmente construídos e nossas qualidades e defeitos estão mimetizadas nos nossos tempos históricos. Qualquer julgamento apriorístico e individualizante deve ser sempre relativizado e tende a ser errado. Especialmente quando penas capitais estão envolvidas. E, mais especialmente ainda, quando quem faz esse julgamento é alguém incapaz intelectual ou culturalmente de fazê-lo, como nos casos acima apontados.
O princípio da inocência, tão “fora de moda” no Brasil, foi criado exatamente para oferecer um freio a esse ímpeto vingativo desde Talião. Mesmo preso, com várias provas contra e decisões interlocutórias contrárias, qualquer indivíduo é ainda inocente até que um juiz depois de submeter o indivíduo à “ampla defesa” e ao duplo grau de jurisdição o determine culpado. No juridiquês ainda precisa o juízo não ser de “exceção” (ou seja, ter sido criado especialmente para julgar aquele ato ou aquela pessoa) e deve-se esperar a publicidade do ato. Matar, pois, qualquer um mesmo que com sondadas evidências de culpabilidade é crime. E o perpetrador da “justiça” se alinha ao criminoso. Se a mesma lógica for seguida, mereceria o algoz do marginal ser ele também justiciado, iniciando uma cadeia infinita que nos deixará “todos cegos”, segundo Gandhi. Os direitos humanos são outra poderosa ferramenta para lembrar dos problemas do “Olho por olho”. Todos tentam evitar a paralaxe dos tempos, e o julgamento apressado e descontextualizado.
É claro que para compreender esse tipo de argumento é necessário que o indivíduo tenha senso crítico e se veja também como falível. Se entenda como um produto cultural do seu tempo e sociedade e saiba de todos os desdobramentos dos tempos de vida individuais. Para tentar incutir isso dentro da mente de pessoas sem empatia Cristo teria dito o famoso “quem nunca errou que atire a primeira pedra”. No fundo é um argumento de autoridade contra a dissociação dos tempos individuais e históricos e um apelo ao “olhar para si”. Quando Maomé salvou a prostituta do apedrejamento (basta olhar a Suna) o sentido era o mesmo e, em quase todas as religiões estão colocadas premissas destinadas a afastar o velho Código de Hammurabi. É claro que a ignorância e a facilidade em julgar e punir o outro, nos leva de volta ao confortável princípio de Talião. É sempre mais fácil julgar que entender. Especialmente o outro. Notadamente o outro.
Em realidade é preciso que queiramos entender o outro. Que tenhamos capacidade de empatia e, principalmente, que ninguém se julgue acima do bem e do mal. Que tenhamos humildade em reconhecer que todos erramos desde juízes e ministros do STF até simples moradores de subúrbios. Em realidade a possibilidade do erro é inversamente proporcional à formação do indivíduo e sua cultura. Eu, particularmente, acho que deveríamos ter muito maior intolerância com juízes que vendem sentenças e policiais que matam cidadãos do que com ativistas que destroem bancos ou marginais que roubam carros. Os primeiros sabem exatamente os limites de suas ações, as consequências de seus atos. Os segundos, não raro, desconhecem qualquer conceito de coesão social. Então me diga porque um juiz corrupto se aposenta com o seu salário, um policial assassino deve ser submetido a uma extensa “sindicância interna” e um batedor de carteiras pode ser amarrado a um poste e surrado até a morte ou um negro que rouba charutos pode ser morto à sangue frio? Hammurabi também diferenciava as penas por classes, “se um escravo bater no rosto de um senhor, este senhor terá direito de bater no rosto de um escravo daquele senhor.” Pense …
.oOo.
Fernando Horta é professor, historiador, doutorando em Relações Internacionais na UNB.
20/ago/2014
https://www.alainet.org/es/node/102596
Del mismo autor
- Não nos falta nada para uma ditadura 19/03/2019
- O Brasil está duro demais para quem é humano 04/05/2018
- Por que eles mandam? 22/11/2017
- De volta para o futuro 05/09/2017
- Os “Neopreocupados” 15/01/2015
- Afinal, existe “nova” ou “velha” política? 30/09/2014
- Ferguson e a direita brasileira 19/08/2014
- Terrorismo, a maior invenção do Ocidente contemporâneo 05/08/2014
- Chauí, a Copa e a “Nova Classe Média” 19/06/2014